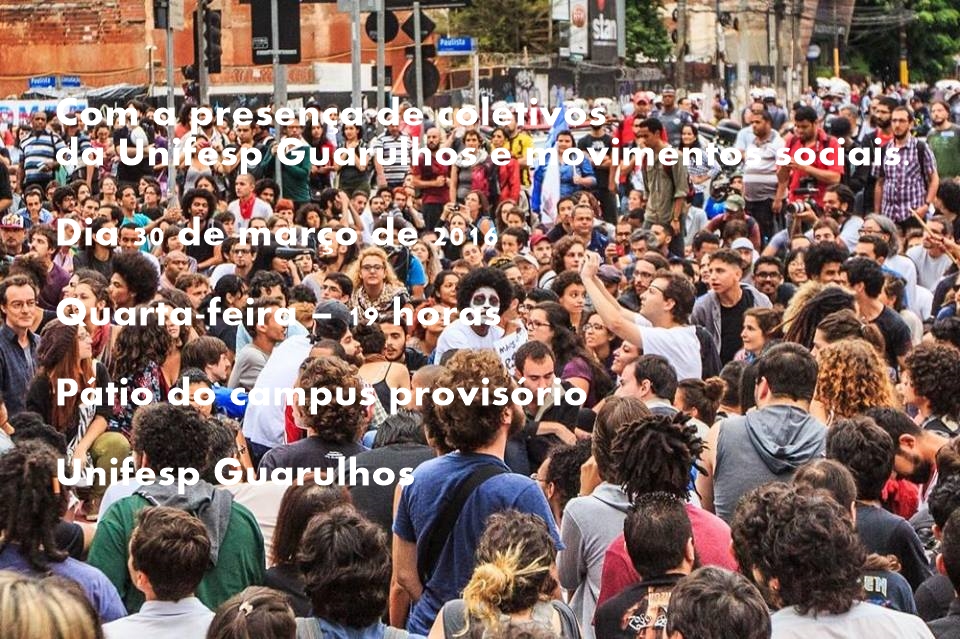Brunno Almeida Maia é estudante de Filosofia pela UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) e autor do livro “O Teatro de Brunno Almeida Maia”, Ed. Giostri (2014).
As crises descortinam o que há de “melhor” e o que há de “pior” no ser humano e na sociedade. Os limites se tornam claros, aparecem, impossibilitam sombra, como no sol do meio dia, destruindo qualquer possibilidade de fuga. A crise é a nervura do real.
Introdução
Entre as incongruências no caso “rolezinho” saltam aos nossos olhos as feridas nunca cicatrizadas de um racismo como ideologia de Estado, e a sua consequente atenuação na sociedade naquilo que Marx convencionou chamar de luta de classes. A icônica imagem de 30 de novembro de 20131, que circulou nas redes sociais e nos principais noticiários, adentra a realidade de um país que constitucionalmente, juridicamente ou ficcionalmente pode ter se livrado do fardo de um passado, deixando para livros de história mal intencionados a glória para o presente e para o futuro, com ares de avanços positivistas.
Questionável se estas imagens, que parecem deslocadas de seu tempo de produção, não revertem a história, mas, pelo menos, constrange-a, permitindo que o debate de uma triste crônica social escancare seus modos de produção e funcionamento, e torne-se, não instrumento midiático de criminalização, mas a possibilidade de abertura do debate no aspecto político.
São nas intimidades das relações de poder e humanas, em um tempo em que não se acredita nos velhos problemas, na inexatidão do segundo, onde tudo escapa, que fragmentos arqueológicos “esquecidos” deste mesmo passado aparecem e revelam-se como as contradições desta mesma história. O que o silêncio destes olhos não consegue tatear é a força que impulsiona, de tempos em tempos, o reaparecimento destes fantasmas.
Em um primeiro momento, podemos evocar aquela dinâmica própria do poder, que “(…) em tempos de perigo para uma comunidade, a tendência geral à conformidade sofre um grande fortalecimento” (Dodds, 2002), como resposta às demandas atendidas, seja em programas de inclusão social ou reconhecimento de uma população específica. É notória a eficácia, sob o ponto de vista do Estado Democrático de Direito de programas sociais implantados nas duas últimas gestões do PT (Partido dos Trabalhadores) no âmbito federal. Ao conceder direitos para aqueles que não possuem direitos, e a garantia de liberdade no aspecto político, uma vez que ela, a liberdade, é a nomeação de um conceito abstrato que se dá a um conjunto de direitos, a resposta incisiva de outras parcelas que disputam o poder e o espaço da decisão é o agrupamento de um rebanho que “se torna mais intolerante do que nunca, diante de opiniões (ou medidas) ‘esquisitas’” (Dodds, 2002). O que seria uma resposta, a um só tempo, social e econômica, torna-se, então, uma questão política.
A ordem do discurso: A produção do medo e do perigo
No dia 8 de dezembro de 2013, a primeira iniciativa dos grupos e organizadores do “rolezinho” ganhou destaque nas páginas dos principais jornais e noticiários do país. Ao convocarem um ato social2 no Shopping Metrô Itaquera, região periférica da cidade de São Paulo, os presentes evidenciaram o estado de alerta em que vive a sociedade, quando o assunto é a aglomeração de corpos estranhos, deslocados de seus espaços habituais. Comerciantes e lojistas, conforme matéria do G13 fecharam os seus estabelecimentos com medo de “saques ou assaltos”. Acionada pela estética do perigo, a PM (Polícia Militar do Estado de São Paulo), colocou-se à disposição para investigar os indícios ou intenções ilegais no ato.
Se no primeiro, o clima foi “pacifico”, no segundo, ocorrido no Shopping Internacional de Guarulhos, que reuniu cerca de 2,5 mil pessoas em 14 de dezembro do mesmo ano, ecoou na prática o discurso do medo provocado inicialmente por parte da opinião pública. Lojistas e compradores registraram tumulto no centro comercial. O que se viu adiante foi a cena de um prólogo previsível como em um teatro grego. Nos atos sociais seguintes, incluindo os de 2014, foram registrados – exageradamente – roubos, assaltos, saques, seguidos de encaminhamento para delegacias da região central ou metropolitana da cidade de São Paulo. Nascia então, na opinião pública, com paternidade legal na ordem do discurso e registrado no cartório da anormalidade uma nova personagem, a do frequentador do “rolezinho”.
Entendendo que aquilo que produz subjetividade é a condição conjuntural do momento, os seus discursos liberados e a esfera das imagens produzidas no instante do ato, podemos enumerar que as primeiras roupagens dos frequentadores do “rolezinho” foram costuradas com a imagem do funkeiro da periferia. Tentativa de recuperar, para não esquecer, o que estava em pauta nas semanas anteriores – como no caso do Shopping Vitória no Espírito Santo – a criminalização do movimento funk.
Estes jovens que transitam entre a linha tênue de nosso tempo são filhos da geração “Classe C”, que se emancipou não como classe social, mas como classe trabalhadora, por meio de um acesso às linhas de créditos. Por outro lado, ao contrário do que esperavam os ideólogos de uma revolução pautada pela distribuição de renda, identificam-se não como cidadãos4 em um processo de emancipação e participantes de uma ação política, mas, para adentrar o cenário da aceitação social, atuam como consumidores identificáveis pelas marcas que “ostentam” e os símbolos que se voltam para o mesmo lugar que os expulsam. Eram sábias as palavras do filósofo francês Gilles Lipovetsky em “O império do efêmero – A moda e seu destino nas sociedades modernas”, ao sentenciar na década de 80, a substituição da ideologia histórica pela ideologia da aparência:
A partir do momento em que desabam as convicções escatológicas e as crenças numa verdade absoluta da história, um novo regime das “ideologias” se instala: o da Moda. (Lipovetsky, 2002).
Paradoxo da experiência do presente: escancaram este aspecto duplo de um jogo discursivo: o crescimento econômico de uma parcela da população e a sua subordinação ao discurso dominante. Espécie de pós-colonialismo do século XXI, sua imagem é vista como um Salvador e um Judas que beija a sua própria face. Capaz de adentrar o imaginário coletivo de um país em processo de mudança, capaz, igualmente, de provocar uma ação obscena que verbaliza (se não, grita), as mecânicas de funcionamento de inclusão e exclusão da vida em sociedade. Ao expurgar esses corpos abjetos de um espaço, abre-se a cortina da farsa social. A nudez política que fere os olhos, deixa à mostra a ideologia do liberalismo: produzir, por meio de personagens identificáveis, uma ideia de perigo e medo. “Podemos dizer que, final de contas, o lema do liberalismo é ‘viver perigosamente” (Foucault, 2004).
Não apenas o perigo e o medo para quem se comporta em uma semiótica social aceitável, mas também o perigo para quem ultrapassa a fronteira do aceitável, expondo aquilo que Giorgio Agamben em seu Homo Sacer (2002) identificou como a vida nua – fora da política – e a vida política aceitável, ou a cidadania.
Viver perigosamente significa que os indivíduos são postos perpetuamente em situação de perigo, ou antes, são condicionados a experimentar sua situação, sua vida, seu presente, seu futuro como portadores de perigo. (…) Não há liberalismo sem cultura do perigo. (Foucault, 2004).
Domínio social e espaço público: o perigo da inversão.
Se desde o início dos atos sociais, conhecido como “rolezinho”, os participantes verbalizavam que se tratava de um “grito ao lazer”, em uma explicita denuncia a falta de espaços de cultura nas regiões periféricas é também verdade que os discursos da opinião corrente alertaram para outra incoerência descortinada por essa crise.
Ao tratar o espaço de um shopping Center como espaço privado, como na fala do Professor de Direito da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), Mauricio Pessoa, em entrevista ao G1, ou como na defesa de internautas que enxergaram na arquitetura expansiva do centro comercial um “espaço público”, a sociedade, sem perceber, cometeu um erro conceitual gravíssimo. Erro de um todo não problemático, uma vez que é pela fala corrente – aquilo que os filósofos insistem em chamar de senso comum – que identificamos as incongruências e separações entre aquilo que se diz e aquilo que se efetiva na prática cotidiana. Identificando o espaço do shopping, ou como privado ou como público, vislumbramos parte do que está em jogo no trinômio indissociável: ato social (rolezinho) X shopping Center e a produção do medo e do perigo.
Entende-se por espaço privado a esfera da privatividade do lar, único lugar na terra em que mulheres e homens, associados, ou não, por uma família, garantem a sua intimidade e privação dos assuntos mundanos e exercitam – sem o olhar dos demais – a reserva para os assuntos de futilidade ou de apreços individuais. Inversão de nossos tempos, em nossa era moderna, o espaço da privatividade opõe-se ao espaço do domínio social ou a vida em sociedade.
O fato histórico decisivo é que a privatividade moderna, em sua função mais relevante, a de abrigar o que é intimo, foi descoberta não como o oposto da esfera política, mas da esfera social, com a qual é, portanto, mais próxima e autenticamente relacionada. (Arendt, 2010).
Como mostra Hannah Arendt em seu celebre livro A condição humana (2010), diferentemente da vida política grega na pólis ou na res publica romana, em que o espaço privado era uma forma de garantir o espaço público, uma vez que seriam dispensáveis quaisquer uns dos aspectos – público ou privado – retirando apenas um deles, a inversão moderna, com a ascensão da burguesia e a invenção da vida em sociedade, no qual “(…) o comportamento substituiu a ação como principal forma de relação humana” (Arendt, 2010), o declínio da família e da privatividade do lar abriu espaço para um novo fenômeno, o da vida nos grupos de associações e a sua consequente formalização na sociedade de comportamento ou de massas. Em outras palavras, substituímos a vida meramente de sobrevivência biológica da família, ou uma zoé5, pelo aspecto combinatório e de agrupamento por ideias da vida social, imaginadas como uma bíos6.
O resultado da inversão deste caráter é ideológico e econômico. Ideológico porque credita na figura de uma massa sem rosto e sem nome7, a ideia de uma grande irmandade ou família. Econômico, pois é neste exato momento histórico que a nasce a possibilidade de uma socialização padronizada e normativa da sociedade. Como propõe Arendt:
(…) ao invés de ação, a sociedade espera de cada um dos seus membros certo tipo de comportamento, impondo inúmeras e variadas regras, todas elas tendentes a ‘normalizar’ os seus membros, a fazê-los comportarem-se, a excluir a ação espontânea ou a façanha extraordinária. Com Rousseau, encontramos essas exigências nos salões da alta sociedade, cujas convenções sempre equacionam o individuo com sua posição dentro da estrutura social. (Arendt, 2010).
Nasce então, uma particularidade do espírito moderno, o domínio social, frente a um processo de esgotamento do espaço público. Este último, por sua vez, é o local, segundo Arendt, no qual se concretizam as fragilidades dos assuntos humanos, uma vez que a sua esfera de ligação entre os homens é o da imprevisibilidade e irreversibilidade da ação política. O espaço público é, por excelência, o espaço da pluralidade humana, no qual cada visão distinta, garantida pela igualdade jurídica, pode olhar para um mesmo objeto, o bem da cidade e a felicidade das mulheres e dos homens. É ainda, o espaço onde se efetua a política e mulheres e homens podem manter as suas singularidades naquilo que dizem (discursos) e naquilo que fazem (ações).
Em outro texto de 1956, no qual Hannah Arendt debruça-se sobre o caso de Little Rock, as questões entre privado, público e domínio social novamente aparecem em um contexto educacional. Dada a importância da tese na época, nos atentaremos apenas ao sentido arendtiano de espaço privado, público e social. Em uma frase polêmica – no final do texto – a autora afirma que “O que a igualdade é para o corpo político – seu princípio intrínseco -, a discriminação é para a sociedade”. (Arendt, 2004).
Tratada como hibridismo entre político e privado, a sociedade, para a filósofa é o inter-espaço entre a vida da privatividade do lar (espaço privado) e a chegada ao espaço da igualdade política (espaço público). É nela, na sociedade, que nos agrupamos por identidade, seja no trabalho, nas relações pessoais ou nos espaço frequentados, e por este mesmo motivo, os grupos possuem o direito a discriminação dos diferentes. Adiante, Hannah aponta a igreja como um espaço público, no qual a discriminação não pode adentrar o reino da aparência. Questiono a postura da autora, uma vez que, ao se associar por ideologia de fé e dogma, a igreja é o espaço do inteiro domínio social, e não espaço público, que exclui por um motivo inquestionável – não se questiona a fé e as suas procedências – aqueles que não enxergam Cristo como messias, mas apenas como um profeta irrelevante.
De qualquer modo, a discriminação é um direito social tão indispensável quanto a igualdade é um direito político. A questão não é como abolir a discriminação, mas como mantê-la confinada dentro da esfera social, quando é legítima, e impedir que passe para a esfera política e pessoal, quando é destrutiva. (Arendt, 2004)
Todavia, Hannah não defende que a discriminação seja a condutora de um cego maquinário de uma sociedade, uma vez que o seu viés, a sua abordagem teórica é a do diagnóstico do presente, nunca da proposta de uma sociedade utópica ou irrealizável. Ao apontar a discriminação como direito do domínio social e a igualdade no espaço público, a autora mostra-nos o funcionamento de uma sociedade regida por duas leis.
Se no espaço público é o aspecto jurídico que deve prevalecer, optando pela verbalização da liberdade – a criação de direitos que possibilite a igualdade política – e dispensando a abordagem da exclusão, caso contrário “(…) se a legislatura segue o preconceito social, a sociedade se torna tirânica” (Arendt, 2004), no espaço do domínio social, no caso do Brasil, a legibilidade da discriminação ganha intenção nas questões de classes, raça, etnia, orientação sexual e regiões geográficas, pautadas, sobretudo por uma questão econômica. O domínio social foi uma “criativa” invenção pós revolução burguesa. Ao lutarem para que uma parcela da população, pelo menos discursivamente, tivesse o direito político, relegaram para este espaço os gostos, os comportamentos, as modas e as ideias de diferentes grupos, simbolizado no modo de vida uma diferença de traços estilísticos. Simbologia esta que, de tempos em tempos, se desenha no ar desmanchando a solidez aparente da realidade, e permitindo que atos sociais, como os últimos vistos nos shoppings Centers de São Paulo, adentrem seus espaços amiúde, nem que seja para fazer naufragar a ideia de ascensão de uma época ou do descumprimento de uma lei.
A inversão de um conceito discursivo, como mostra o caso “rolezinho”, aparentemente inofensivo, espelha uma realidade política que não é exclusividade do Brasil. Desde o capitalismo tardio ou neoliberalismo – para não ir mais longe e falar da divisão entre sabedoria teórica e sabedoria prática feita por Aristóteles -, intensifica-se o processo de desprezo ao espaço público como forma permanente, única e autêntica de ação política. Ao tomarmos o domínio social como espaço de ação, e esperarmos dele, somente dele, um refugio de igualdade, continuaremos exercendo uma lógica cruel de desamparo e de uma “política discriminatória”. O caso “rolezinho” mostra não apenas o que é evidente, a falta de espaços públicos na periferia e no centro da cidade de São Paulo para a população jovem, o racismo anômalo de uma sociedade e a sua forma autoritária respaldada por instituições do Estado, mas, sobretudo, a nossa ingenuidade em não perceber que são nos espaços em que a discriminação da sociedade age de forma mais intensa é que se exerce um olhar carregado para continuidade de um projeto de “perigo e medo”. Não queremos, contudo, afirmar que o espaço público está isento desta possibilidade retrógada, os casos das manifestações de junho de 2013 mostram de forma evidente essa situação. E se eles mostram essa situação é sinal de que a política institucionalizada, realizado no espaço público tornou-se tirânica, ao ponto de tomar a rua como espaço da discriminação, palco de desfile para aqueles que se odeiam e se desprezam. Tampouco, queremos afirmar que continuem os espaços sociais exercendo suas ideologias da discriminação, em nome de um público ou uma parcela da sociedade com modos de vida e específicos bens materiais. Não se trata disto. Trata-se, mais uma vez, de entender em quais caracteres se inscrevem as sociedades contemporâneas, suas idiossincrasias, incongruências e contradições para realizar a leitura do presente, a atual situação de disputa do espaço político de decisão. Não é o poder que está em jogo – o poder é o próprio jogo -, tampouco, a ação política – ela é o próprio homem – o que está em jogo é o espaço da verdade entre o poder e a ação política, seus cenários, figurinos e locais de desvios, entre personagens que transitam, por enquanto, sem rosto e sem nome. Trágico desfecho: até que este ator ganhe personagem em uma história que não é a sua, mas que lhe foi designada como absoluto.
NOTAS:
Refiro-me a foto do dia 30 de novembro de 2013, feita no Shopping Vitória, na Enseada do Suá, no Espírito Santo. Iconoclasta, a imagem registou dezenas de rapazes – em sua maioria jovens e negros –sentados enfileirados no chão de um shopping center, em posição de submissão. Em pé, policiais ostentam o poder de seu cargo, vigiando-os. A foto em questão circulou nas redes sociais (Facebook), como analogia a um navio negreiro anacrônico nos anos 2013. Soube-se depois, que os jovens entraram no shopping para proteger-se das agressões de PM´s realizadas em um baile funk, que acontecia a alguns metros do local.
2 Entende-se neste texto como ato social qualquer livre manifestação que não possui, de imediato, caráter político. A oposição fictícia entre ato social e ato político será necessária, para estabelecer a defesa deste texto, adiante, sobre o obscurecimento entre o que é do espaço público e o que é do domínio social. Não pretendemos com isto, desmerecer um ou outro ato, mas apenas criar uma categoria teórica, para a defesa de uma ideia.
3http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/01/conheca-historia-dos-rolezinhos-em-sao-paulo.html.
4 Foi mencionado acima, que os programas sociais da Era Lula/ Dilma possibilitaram um acesso à liberdade política para estes grupos sociais. Sem subestimar a existência de cidadãos que ascenderam economicamente, socialmente e politicamente, se faz necessário entender o porquê os jovens da periferia enxergam no status de consumidores um aspecto de inclusão e aceitabilidade. Não nos contentaremos com a resposta imediata, de que é típico da cultura de massas o exercício do fascínio e desejo pelo consumo, tampouco, aceitaremos como prerrogativa a ideia de que estes jovens sejam despolitizados. Pensar por estas duas vias é despontecializar a autonomia do sujeito. O que veremos adiante é uma inversão conceitual na esfera política que desemboca na ilusão de que ao frequentar um shopping Center, a juventude encontrou o seu espaço. O público torna-se privado e a ideologia é substituída por um dress code na sociedade.
5 Ao citar a vida biológica, zoé, apontada por Aristóteles, não pretendemos de forma alguma se esquecer do aspecto politizado que se tornou a família após a Idade Clássica. Michel Foucault, ao estudar os regimes da verdade do século XVI e XVII, especificamente a ideia de uma pedagogia nascente, soube mostrar o processo de entrada da política na esfera da privatividade do lar. Foi o que possibilitou, também, a nascença das ciências positivadas, sociais e sobre o homem, desembocando em uma ideia que Freud levou ao extremo: é possível falar dos assuntos do “entre quatro paredes” para um desconhecido. A nossa era, que desconhece os limites do público e do privado, extremou este desejo freudiano e de confissão: fala-se pouco sobre as ideias que inspiram a política e muito sobre as ideias que inspiram a intimidade. É justamente, por este motivo – o de mostrar como a política se apropriou da zoé (vida biológica) – que não faz sentido na teoria foucaultiana estabelecer a divisão entre domínio social e espaço público e privado. Não faz sentido na medida em que a nova forma de configuração de poder e seus dispositivos desconhecem os limites destes espaços. Sua funcionalidade e existência é, justamente, a retirada destes limites, fazendo falar o privado, calando o público e nomeando subjetivamente o social. Ao contrário de Hannah Arendt, preocupada em mostrar o fim da tradição, Foucault mostra quais foram as consequências deste abandono.
6 Um indício deste despontamento da bíos (vida política organizada) no domínio social é a ideia de que o acúmulo de riqueza ou prestígio social favorece a entrada na política, não como forma de se debater no espaço da pluralidade, mas como meio de assegurar, cada vez mais, as suas riquezas, conforme nos mostra Hannah Arendt em A condição humana. Desde o começo da Modernidade, no apogeu da Paris capitalista haussmaniana do século XX, sabe-se que os assuntos políticos não são discutidos em plena luz do dia, mas nas intermináveis noites e nos corredores dos “pequenos tratados”.
6 Não é mero descuido do liberalismo, como nos mostra Michel Foucault, produzir perigo e medo na esfera da sociedade. Este “poder que produz” estava em consonância com um problema fundamental criado pelas revoluções burguesas. Qual era o problema? O da sociedade, da massa “sem nome e sem rosto”, da massa supérflua e descartável criada pelo capitalismo, capaz de ser remodelada, redita e refeita a qualquer momento. Para fixar esta ideia de perigo e de medo cria-se, a partir do século XIX, com a ascensão de uma literatura policial e do jornalismo de crimes, a figura de uma nova personagem que se esconde entre a multidão: o criminoso. Esse processo, com a ajuda da psiquiatria e das ciências positivistas desemboca na possibilidade de se identificar (como na ciência forense) quem é o inimigo entre aqueles que são considerados, transitoriamente, como “cidadãos de bem”. Cf. FOUCAULT, Michel. O nascimento da biopolitica. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Marins Fontes, 2008, p. 90.
BIBLIOGRAFIA
AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. Trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002.
ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
________________”Reflexões sobre Little Rock” in Responsabilidade e Julgamento. Trad. Rosaura Eichenberg. São Paulo: Cia. das Letras, 2004.
DODDS, E.R. Os gregos e o irracional. Trad. Leonor Santos B. Carvalho. São Paulo: Escuta, 2002.
FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolitica. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero – A moda e seu destino nas sociedades modernas. Trad. Maria Lucia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
Tags: Arent, classe C, espaço público, Foucault, jovens, medo, perigo, rolezinho